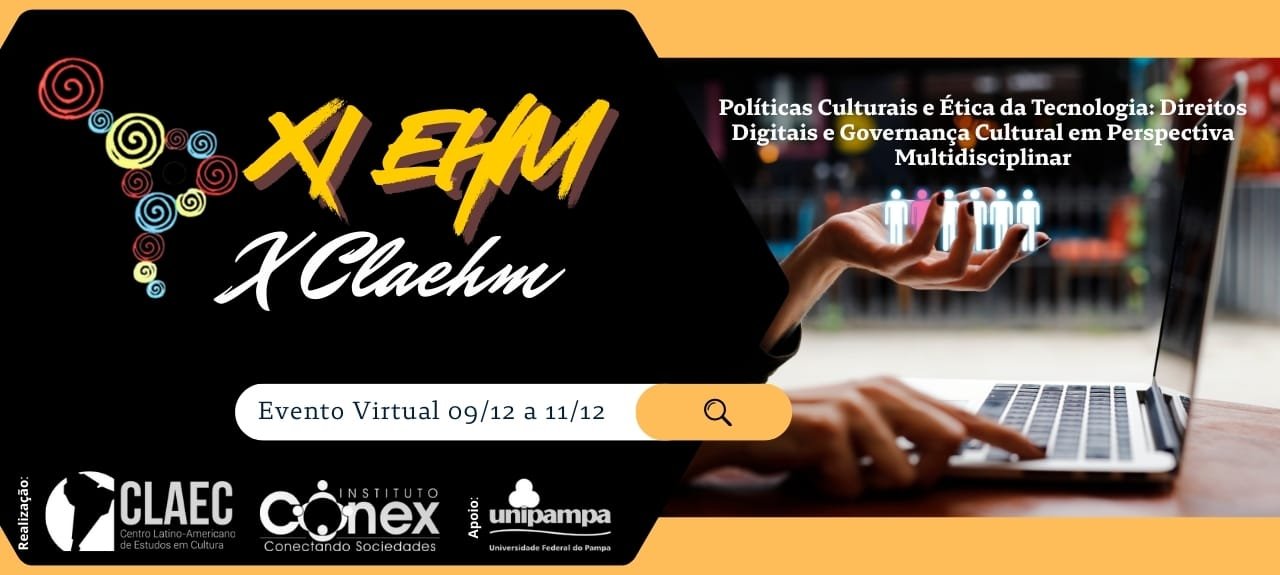
Dra. Estela Maris Giordani (UFSM)
Esp. Emanueli Fernanda Weber Bogorni (Faculdade AM)
Esp. Stefany Aparecida da Silva Santos (UFSM)
Me. Renan Bieger da Silva (UFSM)
Ma. Mariza Cezira Campagner (UFRJ)
Dra. Marilú Angela Campagner (Unipampa)
Dra. Mariana Jantsch de Souza (IFSul)
Dra. Naiara Souza da Silva (Unipampa)
Me. Fabrício Luis Haas (IFSul)
Dr. Lucía Silveira Alda (IFRS)
Dra. FRANCIELLE DE LIMA (Unipampa)
Dra. LUCIANE TODESCHINI FERREIRA (UCS)
Dra. Maria de Fatima Bento Ribeiro (UFPel)
Dra. Angela Mara Bento Ribeiro (Unipampa)
Dr. Carlos José de Azevedo Machado (IFSul)
Este GT visa à reflexão da cultura. Em especial, o interesse se dá no espaço da América Latina, no uso dos espaços e nos sentidos que são produzidos. Tais espaços citados são constituídos de múltiplas vozes, formando,assim um território de intercâmbio cultural.Nessa perspectiva, temos uma socialização de informações das mais diversas áreas do conhecimento, tanto do erudito quanto do popular , que se torna visível através de estudos que entendem a cultura como instrumento de soft Power nas relações internacionais. A cultura é uma força dinâmica que permeia todos os aspectos da sociedade, influenciando valores, comportamentos e estruturas sociais.
Ma. Beatriz Hellwig Neunfeld (UFPel)
Ma. Liziane Borges Fagundes (Unipampa)
A trajetória dos profissionais da educação é permeada por diferentes papéis a serem desempenhados no contexto escolar e conta com uma rede de apoio e parcerias. Além disso, o trabalho no âmbito da gestão escolar é atravessado por estudos e formação continuada, escuta ativa e diálogos constantes, além dos diversos desafios cotidianos enfrentados no âmbito da escola pública na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul (REE/RS). Este trabalho propõe um relato de experiências vivenciadas pela orientadora educacional e supervisora escolar, destacando os papéis desempenhados por essas profissionais, os desafios enfrentados e atividades desenvolvidas durante o período de exercício da profissão no âmbito da Escola Estadual de Ensino Fundamental Monsenhor Gautsch. A Escola Estadual Monsenhor Gautsch fica localizada no município de São Lourenço do Sul/RS e é atendida pela 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Atende cerca de cento e trinta e quatro (134) crianças que frequentam uma das nove (09) turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde. Dentre os papéis desempenhados pela orientação educacional da REE/RS, destacamos a organização e execução democrática de um plano de ação para a garantia dos direitos de acesso e permanência dos estudantes, a fim de combater o abandono e a evasão escolar. Além disso, é papel do orientador educacional estabelecer relação constante com o território junto à comunidade, buscando a articulação com a Rede Intersetorial de Proteção à Criança e Adolescentes. Além do cuidado e bem-estar na escola, promovendo a cultura da paz neste ambiente. Nas atribuições do supervisor escolar da REE/RS está a articulação e auxílio da promoção de uma educação de qualidade para os estudantes. Atua como uma ponte que conecta o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, os desafios de aprendizagem de cada estudante e os possíveis caminhos pedagógicos dos professores, na medida em que orienta a prática docente. No contexto deste relato, destacamos as parcerias de projetos educacionais realizados na referida escola, visando melhorar e fortalecer a educação dos estudantes e da comunidade escolar. Entre os projetos destacam-se o projeto do Centro de Escritores Lourenciano (CEL), intitulado “Visita ao Sítio do Pica-Pau Amarelo”, que tem como objetivo estimular a criatividade dos estudantes da Rede Pública de ensino de São Lourenço do Sul. Outro projeto muito relevante dentro da escola é o da Horta Escolar, este projeto foi desenvolvido em parceria com os alunos e professores do curso de graduação de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Rio Grande (FURG). O projeto visa a educação e conscientização dos recursos ambientais e sustentabilidade e foi realizado com os estudantes do quarto ano do ensino fundamental. Os resultados dessas parcerias se destacam no âmbito escolar e territorial e evidenciam a importância da busca de uma educação de qualidade e equidade.
Ma. Rosilene Oliveira Silva (UFPel)
Dra. Vanessa Avila Costa (FURG)
O Grupo de Trabalho “Patrimônio Industrial, Memória e Identidade Operária: potencialidades e desafios contemporâneos” propõe-se a reunir pesquisadoras(es) e profissionais interessadas(os) em refletir sobre a relação entre patrimônio industrial, memória e identidade operária. O patrimônio industrial não se limita a estruturas arquitetônicas ou técnicas associadas à produção, mas abrange também as vivências cotidianas, as práticas sociais, as narrativas e os saberes construídos em torno da experiência do trabalho. Ao considerarmos a memória e a identidade operária que emergem desses espaços, percebemos processos complexos de pertencimento, resistência e disputas, fundamentais para a interpretação do passado recente e para a construção de políticas de preservação e valorização. Nesse sentido, o reconhecimento do patrimônio industrial implica reconhecer a centralidade das memórias de trabalhadoras e trabalhadores, das comunidades ligadas aos mundos industriais e das práticas culturais que se consolidaram em torno dessas experiências. Preservar esses bens, sejam eles materiais ou imateriais, permite legitimar narrativas contra-hegemônicas e promover a visibilidade de histórias que foram silenciadas e que estão ausentes nos discursos oficiais. Nesse contexto, o GT busca reunir trabalhos que contemplem diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, valorizando o diálogo interdisciplinar entre áreas como história, antropologia, arqueologia, sociologia, geografia, arquitetura, museologia, educação e outras. Pretende-se construir um espaço de compartilhamento de experiências voltadas à patrimonialização, apropriação e ressignificação dos espaços industriais, considerando seus desafios no mundo contemporâneo. Assim, os objetivos do GT são: 1) promover o debate sobre memória e identidade operária vinculadas ao patrimônio industrial; 2) discutir as tensões entre preservação, esquecimento e disputas de legitimidade na construção de narrativas sobre o patrimônio industrial; 3) compartilhar experiências e práticas de educação patrimonial, gestão de acervos e iniciativas de ressignificação dos espaços industriais desativados; 4) estimular o diálogo interdisciplinar entre pesquisadoras(es) e profissionais interessadas(os) na valorização e difusão do patrimônio industrial; 5) integrar trabalhos que abordem o patrimônio industrial a partir de diversas áreas do conhecimento, contemplando questões de gênero, raça, etnia, memórias operárias, identidade, musealização, práticas colaborativas, processos de desindustrialização, entre outras.
Dra. Ida Maria Morales Marins (Unipampa)
Dra. Denise Aparecida Moser (Unipampa)
Segundo a pesquisa ‘Retratos da leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro, em 2024, o número de leitores caiu em 6,7 milhões em comparação à pesquisa de 2019. Um dos principais motivos apontados na pesquisa é o fato de “não gostar de ler”. Diante dessa realidade, coloca-se aos professores o desafio em pensar possibilidades didáticas que possam contribuir para melhorar esses resultados, haja vista a leitura ser uma prática de linguagem essencial para o desenvolvimento da criticidade, o exercício da cidadania e emancipação dos sujeitos no mundo cada vez mais plural e onde a multissemioticidade nos textos tem sido fortemente estimulada pela cultura digital. Conforme Rojo (2007), as práticas de leitura do texto verbal já não são mais suficientes, é necessário colocá-las junto aos outros tantos signos que as impregnam. Nessa esteira, a BNCC (2018) compreende a prática de leitura de forma ampliada cuja interação autor- texto – leitor deve considerar não somente o texto escrito, mas todas as tantas formas de linguagens: estáticas, em movimento, sonoras que estão incorporadas nos diferentes gêneros textuais circulantes no mundo digital. A constatação de que os alunos não gostam de ler nos leva a problematizar os tipos de práticas ainda vigente nas escolas, que tomam a leitura como mero instrumento de decodificação. Assim, esse GT tem por objetivo compartilhar possibilidades de práticas de ensino de leitura e compreensão, considerando a emergência das novas tecnologias, as quais apresentam outras linguagens em interação com o texto verbal. Acolhemos práticas realizadas por professores da rede básica de ensino, assim como pesquisas e experiências em projetos de ensino e extensão voltados ao tema, em diferentes perspectivas teóricas: cognitivista, interacionista, sociocultural.
Dra. Ana Cristina da Silva Rodrigues (UNIPAMPA)
Me. Tiago Ramires (Seduc RS)
Ma. Amanda Machado Mugica dos Santos (SMED Bagé – RS)
Ma. Graciele Lopes Ribeiro (SMED Rio Grande – RS)
O grupo de trabalho busca refletir sobre a as Cartas Pedagógicas Freireanas, enquanto instrumento metodológico de ensino, pesquisa, extensão e gestão na perspectiva da produção escrita autoral e no convite ao diálogo entre os diferentes participantes do grupo. É uma proposta que acolhe diferentes experiências de pesquisa e relatos de práticas pedagógicas a partir de Cartas Pedagógicas e, principalmente do legado de Paulo Freire para o contexto da educação. Trata-se de um convite aos diálogos multidisciplinares tendo em vista a intenção e a oportunidade de transformar micro-realidades no espaço da sala da sala de aula, da pesquisa, da extensão, da gestão e dos movimentos populares As Cartas Pedagógicas são instrumentos de diálogo de inspiração Freireana. Paulo Freire em sua vasta obra sobre pedagogia e educação costumava adotar as cartas como estilo de escrita. Há quatro obras consideradas obras epistolares de Paulo Freire. São elas Cartas a Guiné Bissau (1976), Professora sim, tia não! Cartas a quem ousa ensinar (1997), Cartas a Cristina (1994) e Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos (2000). Sendo esta última, obra póstuma organizada pela viúva Ana Maria de Araújo Freire, que também cunhou pela primeira vez o termo Carta Pedagógica. Cartas Pedagógicas são instrumentos potentes de diálogo, reflexões e “provoc-ações” no contexto educacional. Diferente de outras cartas, elas caracterizam-se como pedagógicas pelo caráter educativo que apresentam. São instrumentos que convidam a pensar e promover aprendizagens. Trata-se de conteúdo reflexivo e provocador, carregado pelas experiências de autor e destinatários, repleto de motivação e que instigam provocações no sentido de buscar transformações mediadas pelo diálogo escrito. Tem por objetivos incentivar a produção de Cartas Pedagógicas, articulando diferentes contextos de ensino, pesquisa e extensão na formação acadêmica, promover o diálogo entre experiências de ensinar e pesquisar com Cartas Pedagógicas, conhecer ações de formação – em diferentes modalidades – com vistas a divulgar o conhecimento sobre o legado de Paulo Freire em geral, e as Cartas Pedagógicas em específico.• O resultado esperado para as produções do GT, num sentido mais amplo e qualitativo é o reconhecimento das Cartas Pedagógicas como uma modalidade de escrita acadêmica. No sentido específico e quantitativo diz respeito à ampliação das ações acadêmicas que empreguem as Cartas Pedagógicas como instrumento metodológico em diferentes âmbitos da formação acadêmica. Os trabalhos inscritos para o GT deverão ser enviados sob a forma da Cartas Pedagógicas respeitando-se as características deste gênero textual. Os participantes poderão enviar as cartas pedagógicas nos layouts definidos pela organização do evento sendo eles resumos expandidos, relatos de experiências e artigos completos em português e/ou espanhol.
Dr. Alexandre Caldeirão Carvalho (UNIPAMPA)
Dra. Sátira Pereira Machado (UNIPAMPA)
A presente proposta de Grupo de Trabalho (GT) tem por objetivo reunir pesquisadores, profissionais, gestores públicos e atores culturais para a discussão, reflexão e troca de saberes em torno da temática dos territórios criativos e cidades criativas. Em um contexto contemporâneo marcado por profundas transformações econômicas, sociais e culturais, as abordagens que valorizam a criatividade, a inovação e a cultura como vetores estratégicos para o desenvolvimento local ganham crescente relevância. Os territórios criativos são entendidos como espaços geográficos que, por meio da articulação de múltiplos atores e atividades econômicas, culturais e sociais, conseguem dinamizar processos de inovação e desenvolvimento sustentável, valorizando suas especificidades culturais e potencialidades locais. Já o conceito de cidades criativas amplia esse campo para a dimensão urbana, propondo a integração entre políticas públicas, setores culturais e econômicos e a participação cidadã na construção de ambientes propícios à inovação cultural, artística e tecnológica. Este GT convida a submissão de trabalhos que explorem os diferentes aspectos dessa temática, incluindo, mas não se limitando a: estudos de caso de territórios criativos e cidades criativas; análises de políticas públicas voltadas para o fomento da criatividade territorial; processos de governança e gestão colaborativa; relações entre cultura, inovação e desenvolvimento regional; práticas e estratégias de valorização da diversidade cultural e patrimonial; impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da implementação dessas políticas e iniciativas; abordagens interdisciplinares que integrem as dimensões econômica, social, cultural e ambiental; e metodologias inovadoras para a pesquisa e avaliação de territórios e cidades criativas. A diversidade de olhares e abordagens é fundamental para compreender as potencialidades e desafios que envolvem a construção e a sustentabilidade dos territórios e cidades criativas, especialmente em contextos locais e regionais diferenciados. Assim, o GT busca fomentar o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, como Produção Cultural, Administração Pública, Planejamento Urbano, Economia Criativa, Sociologia, Antropologia, Geografia, Arquitetura, Design, entre outras. Por meio deste espaço, pretende-se ampliar o debate acadêmico e prático, promovendo a aproximação entre pesquisadores, profissionais e gestores para a construção coletiva de saberes que possam contribuir para a formulação e implementação de políticas, programas e ações que valorizem a criatividade e a cultura como alicerces para o desenvolvimento territorial sustentável. Em síntese, o GT sobre Territórios Criativos e Cidades Criativas configura-se como um espaço plural e dinâmico para a reflexão crítica, apresentação de pesquisas, experiências e projetos inovadores que possam inspirar novas práticas e ampliar o entendimento sobre o papel estratégico da criatividade na transformação dos espaços urbanos e regionais contemporâneos.
Dr. Alessandro Carvalho Bica (UNIPAMPA)
Dra. Simoni Costa Monteiro Gervasio (UNIPAMPA)
Lic. Samanta Barbosa Bergmam (UNIPAMPA)
Este GT tem por objetivo promover um espaço crítico para o diálogo sobre a historiografia da educação e a historiografia digital da educação, considerando fontes como impressos, manuscritos e jornais, sejam elas relacionadas ao campo da educação quanto aquelas que abordavam interesses políticos a fim de moldarem iniciativas educacionais, sendo aceito os estudos a partir de fontes ou objetos históricos compreendidos desde o século XIX até as primeiras décadas do século XX. Pretende-se, também, ampliar o debate historiográfico conectando fontes de materialidade tradicional, com reflexões sobre as potencialidades, desafios e perspectivas da História Digital da Educação e suas implicações históricas e contemporâneas, além de pensar o debate historiográfico a partir da investigação por meio de tecnologias digitais, contribuindo para preservação, catalogação e disponibilização de documentos, fomentando assim novas metodologias de pesquisa e difusão científica a partir das expertises presentes nos Repositórios Digitais e nos acervos históricos. Considera-se assim, a necessidade de problematizar os usos, materialidades, formas de produção e os atravessamentos presentes nas epistemologias dos historiadores, nos atos de pensar, pesquisar e escrever a História da Educação a partir de processos historiográficos circundados por questões tecnológicas. O GT compreende ainda pesquisas em áreas emergentes em História da Educação abordando conceitos como os de intelectuais da educação, memória, imigrações, patrimônio educativo, cultura escolar, movimentos sociais, instituições escolares e práticas educativas, desde que ligados à perspectiva de fontes ou objetos históricos, sejam elas materiais ou digitais. As tipologias e práticas de pesquisa em História da Educação poderão ser exploradas na medida que busquem demonstrar o fazer historiográfico, com a organização e manipulação de fontes históricas materiais ou digitais. Nesta perspectiva, inclusive, a discussão amplia-se sobre novas possibilidades de trabalho e cuidados necessários. Com tudo, espera-se que este GT seja capaz de reunir pesquisadores interessados em discutir as potencialidades e possibilidades do campo da História da Educação e História Digital da Educação, entrelaçando-se as perspectivas teóricas da área, e realizando um amplo debate metodológico e conceitual com espaço para discussões e aprendizagens que não visam obter respostas, mas levantar novos questionamentos e debates entre os historiadores que objetivam contribuir com o campo na medida que empregam suas pesquisas para a construção de novos conhecimentos em História da Educação e/ou História Digital da Educação.
Dra. Alice Leoti (Unipampa)
Dra. Angela Mara Bento Ribeiro (Unipampa)
Dra. Juliana Rose Jasper (Unipampa)
Dra. Alessandra Buriol Farinha (Unipampa)
O objetivo deste Grupo de Trabalho é proporcionar um espaço para a discussão e troca de conhecimentos sobre as interseções entre turismo, eventos, cultura e gastronomia na América Latina. Este grupo busca reunir pesquisadores e profissionais interessados em explorar como essas áreas se entrelaçam, influenciam e promovem o desenvolvimento econômico, social e cultural nas diversas regiões do continente. Através de um enfoque interdisciplinar, pretende-se abordar questões como o impacto do turismo gastronômico na preservação das tradições culturais, o papel dos eventos culturais na promoção do turismo regional, e as estratégias de marketing e comunicação que potencializam a atração de turistas e a valorização da cultura local. A América Latina é um mosaico de culturas, onde a confluência de tradições indígenas, africanas, europeias e asiáticas cria um cenário único de diversidade e riqueza cultural. Nesse contexto, pretende-se abordar temas como o impacto do turismo na preservação e valorização das culturas locais, a importância dos eventos gastronômicos na promoção da cultura culinária e o papel das políticas públicas na integração dessas práticas. Além disso, busca-se compreender as experiências e os desafios enfrentados pelas comunidades locais na busca por um turismo mais inclusivo e representativo, que valorize suas tradições e modos de vida. Deste modo, as discussões serão embasadas nos estudos de caso apresentados, análises teóricas e pesquisas empíricas que demonstrem a relevância e os desafios enfrentados pelas iniciativas que visam integrar essas áreas. A intenção é fomentar um debate que possa contribuir para a compreensão das dinâmicas e práticas que envolvem a gestão e a promoção do turismo cultural e gastronômico, bem como as políticas públicas necessárias para apoiar o desenvolvimento sustentável deste setor. Além disso, as discussões buscarão entender como essas práticas podem ser usadas para promover o desenvolvimento sustentável, fortalecer a identidade regional e fomentar o respeito e a compreensão intercultural. Espera-se que os participantes do Grupo de Trabalho apresentem trabalhos que abordem temas como a inovação na gastronomia turística, o uso de eventos como ferramentas de promoção cultural, a valorização do patrimônio cultural através do turismo, e as novas tendências e desafios na gestão de destinos turísticos. Acredita-se que a integração desses campos pode gerar benefícios significativos para as comunidades locais, fortalecendo sua autonomia e capacidade de se adaptar às mudanças globais, ao mesmo tempo em que preserva e valoriza sua herança cultural. A troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas serão incentivados, visando a construção de um conhecimento coletivo que possa ser aplicado em diferentes contextos e realidades da América Latina.
Dra. Marilú Angela Campagner (Unipampa)
Ma. Mariza Cezira Campagner (UFRJ)
Dr. José Messias Bastos (UFSC)
O foco deste estudo são as questões referentes às transformações sócios espaciais ocorridas, pela apropriação do espaço urbano pela estrutura portuária no mundo e, em especial, no Brasil. Para conceber o planejamento e desenvolvimento partimos da premissa de que o espaço usado é agente ativo da definição das ações de intervenção do ser humano e agentes públicos representados pelo Estado. A pesquisa foi efetuada a partir de documentos, levantamentos históricos, conceituais e informações, entrevistas com habitantes, “in loco” e, tem por objetivo, contribuir para a análise da organização espacial do território com apoio de um estudo sobre a formação sócio espacial utilizando informações referentes a sociedade, nas organizações públicas, abarcando às contradições internas e a dinâmica da transformação das atividades portuárias, de turismo, comércio e população identificando os problemas e as medidas necessárias, de ordem institucional e informacional, para que tal iniciativa dê resultados positivos além de proporcionar um entendimento da origem e formação dos portos no mundo e, Brasil, montar um mapa integrado dos dados de uso do solo, infra-estrutura urbana com as atividades de comércio e serviços condizentes com o objetivo da pesquisa. Nesse sentido, verifica-se que a formação dos portos com uma história a par da modernidade e do cosmopolitismo, integrados na arquitetura, onde as casas coexistem, permitindo um encontro de fluxos da economia global. O porto, numa cidade, compreende a autêntica herança cultural dos processos políticos-econômicos e sociais, contribuindo de forma decisiva na feição dos padrões socioculturais da mesma. Estes aspectos difundiram-se na dinâmica das redes de transporte e suas modalidades possuindo influência na logística, transformação e organização do espaço. São memórias que a partir de um lugar procuram unir o presente ao passado da cidade. Assim, tratamos de questões relativas ao processo das evoluções sócio-espaciais ocorridas pela apropriação, uso e utilização do espaço pelo desenvolvimento e planejamento, compreendendo a análise dos aspectos políticos, econômicos, administrativos promovendo o pensamento critico a respeito da geografia e economia dos transportes, circulação, indústria e cultural. Assim, os portos se articulam com as fronteiras ao evocar um tempo impreciso, pessoal e coletivamente vivido ao manter relações e formar uma cadeia de produção logística a favor do crescimento produtivo e da acumulação de capital, que tem como resultado final o espaço geográfico urbanizado e as estruturações da divisão espacial do trabalho. Por fim, espera-se suprir a necessidade premente de estudos sobre a evolução sócio espacial ocorrida pela apropriação do espaço urbano pelo portos ocorridos em relação a desenvolvimento e planejamento integrando a área pesquisada pela geografia e economia.
Dra. Giane Rodrigues dos Santos
(Universidade Federal do Pampa)
Dra. Jorgelina Ivana Tallei (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)
Este Grupo de Trabalho (GT) propõe um espaço de discussão sobre a translinguagem e suas interseções com contextos fronteiriços. A translinguagem, compreendida como uma prática discursiva que desafia as barreiras entre línguas e favorece a fluidez comunicativa, tem ganhado destaque nas pesquisas sobre bilinguismo e educação multilíngue (GARCÍA; WEI, 2014). Em regiões de fronteira, onde múltiplas línguas e culturas coexistem, essas práticas se tornam ainda mais evidentes e relevantes (CANAGARAJAH, 2013). Além disso, as manifestações híbridas de linguagem nesses espaços revelam dinâmicas de comunicação complexas, em que elementos de diferentes línguas e registros se entrelaçam para formar novas formas de expressão e interação (MAKONI; PENNYCOOK, 2007). O objetivo do GT é reunir pesquisadores, professores e estudantes interessados em investigar e debater como a translinguagem se manifesta e contribui para a construção de identidades, práticas pedagógicas e políticas linguísticas em espaços de fronteira. O escopo do GT abrange estudos teóricos e empíricos que explorem o uso de múltiplos repertórios linguísticos em contextos educativos, sociais e culturais, considerando suas implicações para a inclusão, a equidade e a valorização da diversidade. São bem-vindos trabalhos que abordem temas como: • Translinguagem em contextos educativos bilíngues e multilíngues; • Identidades linguísticas e culturais em regiões de fronteira (HORNBERGER; LINK, 2012); • Políticas linguísticas e educação em espaços transfronteiriços; • Práticas discursivas e interações sociais em comunidades multilíngues (MAKONI; PENNYCOOK, 2007); • Manifestações híbridas de linguagem em contextos fronteiriços e suas implicações para a comunicação e a construção identitária. •Língua e literatura de fronteira como espaços de resistência, hibridismo e criação cultural. Com esta proposta, espera-se fomentar debates sobre as potencialidades da translinguagem para a valorização da diversidade linguística e cultural, além de refletir sobre os desafios e oportunidades que emergem na interface entre línguas, sujeitos e territórios em contextos fronteiriços.
Dra. Sandra Dalila Corbari (Unipampa)
Dra. Mayara Roberta Martins (FURG)
Dr. Adriano Fabri (Seduc SC)
As relações entre cultura e natureza configuram um campo de investigação central para compreender as dinâmicas e os desafios socioambientais contemporâneos. Superando as dicotomias humanidade-natureza, cultura-natureza e cidade-natureza, uma perspectiva multidisciplinar (e interdisciplinar), permite integrar saberes e métodos de pesquisa de diferentes áreas de estudo, evidenciando a interdependência entre sistemas ecológicos e sistemas culturais. O conceito de paisagem, por exemplo, pode ser abordado tanto sob a ótica ecológica, quanto como construção simbólica e histórica, revelando modos distintos de apropriação, manejo, significação dos espaços e territórios. Mais do que isso, como explicitado por Ingold (2000), as paisagens são constituídas por um emaranhado de elementos humanos e não humanos. A compreensão integrada de cultura e natureza exige reconhecer que as práticas culturais – como modos de vida, sistemas produtivos, manifestações e tradições – não apenas se adaptam aos contextos ambientais, mas também os transformam, influenciando a biodiversidade e a configuração dos ecossistemas, como é o caso da Floresta Amazônica e das Savanas africanas (Velden; Baldie, 2011). Por outro lado, elementos naturais, como clima, relevo e recursos hídricos, moldam oportunidades, restrições e sentidos atribuídos pelos grupos humanos aos seus espaços de vida. Essa mútua influência se expressa em temas diversos, tais como: patrimônio cultural e natural, turismo, agroecologia, gestão de áreas protegidas, políticas públicas socioambientais, movimentos sociais e comunidades tradicionais. Portanto, a perspectiva interdisciplinar possibilita articular diferentes áreas de conhecimentos e de estudos, de diferentes escalas e temporalidades, permitindo analisar desde o manejo tradicional de recursos até os impactos das mudanças climáticas e da globalização econômica sobre os modos de habitar, imaginar e apropriar-se da natureza. Além disso, é essencial um amplo diálogo intercultural entre conhecimentos acadêmicos e saberes tradicionais e/ou populares, um processo de aprendizagem recíproca que exige humildade epistêmica (Salas, 2003), assim como uma visão holística do conhecimento. Desse modo, este grupo de trabalho propõe reunir pesquisadores e pesquisadoras interessados em explorar essas interações sob múltiplas abordagens epistemológicas, promovendo reflexões teóricas, estudos de caso e metodologias. Busca-se, assim, avançar na construção de novos conhecimentos e amplas reflexões, que reconheçam a influência mútua – ou mesmo a indissociabilidade – entre cultura e natureza.
Dr. Alan Dutra de Melo (Unipampa)
Dr. Ronaldo Bernardino Colvero (Unipampa)
O objetivo é estabelecer aproximações entre a história, memória e Identidade elementos importantes na compreensão das sociedades nas fronteiras. As relações de poder instituída ao longo do tempo pelas elites alteraram as relações entre estado e sociedade estabelecendo um novo contexto social nestas regiões. As políticas públicas em regiões de fronteiras necessitam de uma melhor compreensão da realidade social para isto é importante congregar nestas discussões os diferentes saberes de todas as áreas do conhecimento.
Dra. Luciana Contreira Domingo (Unipampa)
Dr. Renan Gomes Cardozo (UFPEL)
Dr. Roberto Matos Pereira (UNEB)
Ma. Carla Alves Lima (Seduc RS)
Caminhar pelas ruas da maioria das cidades implica encontrar-se com uma infinidade de informações em textos escritos em diferentes línguas. Em cidades ou regiões onde existe contato linguístico, essa experiência é potencializada: discursos políticos, propagandas comerciais, avisos, declarações de amor, insultos e demais manifestações escritas coabitam espaços físicos, alimentam imaginários e produzem verdadeiros quadros urbanos (“Como se lê a fronteira? Pautas para uma interpretação sobre a paisagem linguística da fronteira Jaguarão/Br-Río Branco/ Uy”. Domingo, Lima, Martins e Cardozo, 2021, p. 2). Nesse cenário, é com satisfação que o grupo de pesquisa “Las lenguas que habito: estudo da paisagem linguística” propõe, pela primeira vez, um Grupo de Trabalho no Encontro Humanístico Multidisciplinar e Congresso Latino-Americano de Estudos Humanísticos Multidisciplinares. A proposta aqui apresentada pretende reunir pesquisadores, docentes e estudantes, que se dediquem ao estudo da paisagem linguística (PL) de diferentes contextos. O campo de estudos sobre a paisagem linguística é uma área em ascensão que investiga as manifestações linguísticas em espaços públicos e dialoga com diferentes áreas de pesquisa, quais sejam a linguística aplicada, a sociologia, a antropologia linguística etc. Observar, identificar, fotografar e analisar os discursos escritos em espaços públicos… mais que etapas do processo de pesquisa sobre a paisagem linguística, permitem entender o que as ruas, os muros e as fachadas têm a dizer sobre a cultura, a identidade local, o hibridismo das/ nas relações e o (s) jogo (s) de poder exercido e/ou sofrido pelos habitantes de um lugar, formando uma verdadeira narrativa visual a céu aberto. Sendo assim, esta proposta de Grupo de Trabalho espera receber trabalhos que investiguem, descrevam e analisem a paisagem linguística de distintos contextos rurais ou urbanos, no Brasil ou no exterior, que apresentem resultados de pesquisas concluídas ou em andamento, bem como propostas didáticas para o ensino de línguas através da PL. Espera-se que o evento congregue pessoas de diferentes latitudes e que os estudos reunidos neste simpósio temático, dialoguem e contribuam mutuamente para o fortalecimento das pesquisas em andamento e que, igualmente, inspirem novos trabalhos promovendo e consolidando a área em ascensão e impulsando novas pesquisas.
Dra. Marilú Angela Campagner (Unipampa)
Ma. Mariza Cezira Campagner (UFRJ)
Dr. José Messias Bastos (UFSC)
Esta atividade é parte integrante do projeto intitulado: Infraestrutura de Integração Econômica na América do Sul das Integrações Regionais Transfronteiriços a uma Efetiva Integração Subcontinental, aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ. Assim, a pesquisa trata de um levantamento dos investimentos, em infraestrutura, na América do Sul, entre os quais transporte e logística, geração e transmissão de energia, saneamento básico e telecomunicações. Nesta, estudaremos questões referentes às transformações sócios espaciais ocorridas no espaço, nos últimos 10 anos sobre a infraestrutura nos países da América do Sul. Assim, partimos da premissa de que o espaço usado é o agente ativo da definição das ações desses agentes modeladores do espaço, em especial, o Estado. Esta, sendo efetuada a partir de documentos, levantamentos históricos conceituais e informações, entrevistas tendo por objetivo, contribuir para a análise da organização espacial do território com apoio de um estudo sobre a formação sócio espacial utilizando informações referentes a atividades do espaço, nas organizações públicas e/ou privadas, economias mistas, referentes às atividades de turismo, comércio e serviços, transporte e logística, agricultura, indústria, tecnologia, energia, redes de conexões e sistemas atentando e identificando as oportunidades de melhorias, fragilidades e/ou problemas bem como, as medidas necessárias, de ordem institucional, informacional, para que tal iniciativa dê resultados positivos além de proporcionar um entendimento da gênese, dos Países da América do Sul, pesquisados, na contemporaneidade (até os dias atuais). Esses, alvos de pressões econômicas e sociais que se refletem no processo de uso e ocupação do solo, transformando o espaço territorial através da urbanização, industrialização, circulação de mercadorias, serviços e informações. Esses processos devem ser avaliados em sua complexidade, utilizando como unidade ideal para estudos a Infraestrutura de Integração Econômica na América do Sul. Neste sentido, montar um mapa integrado, gráficos e croqui dos dados referentes ao uso do solo, infraestrutura urbana com as demais atividades de comércio e serviços condizentes com o objetivo da pesquisa. Nos escritos de Bastos (2000-2025), ao analisar o pensamento de Inácio Rangel, torna-se necessário, se não inevitável, que se avalie constantemente, os mecanismos desta realização social, bem como, o papel do Estado, pelos agentes públicos e/ou privados. Este agente tem singular importância, pois é a partir do seu desempenho que o uso do solo ganha determinações específicas locais e/ou associadas a relações externas, a integrações regionais, transfronteiriças a uma efetiva integração subcontinental e, até transnacionais. Por fim, espera-se suprir a necessidade premente de estudos sobre a infraestrutura de integração econômica na América do Sul integrando as áreas pesquisadas pela geografia e economia.
Ma. Mariza Cezira Campagner (UFRJ)
Dra. Marilú Angela Campagner (Unipampa)
Esta proposta analisa o desenvolvimento do pensamento educacional conforme Florestan Fernandes (1966-2021a), com foco nas articulações entre educação, estrutura socioeconômica e transformação social. Através da pesquisa documental, examinou-se o papel da escola pública, em sociedades capitalistas dependentes. Florestan vinculava a democratização do ensino à superação das desigualdades estruturais do capitalismo brasileiro, defendendo investimentos estatais exclusivos na escola pública e valorização do trabalho docente. Contribui, com a LDB de 1961, a Reforma Universitária de 1968, a Constituinte de 1988 e os debates da nova LDB (1996). A partir dos anos 1980, adotou uma perspectiva socialista, considerando a educação um instrumento de lutas de classe e de enfrentamento à ordem econômica. Ainda, sua proposta integra dimensões educacionais, sociais e econômicas, articulando estratégias de transformação dos meios e modos de produção capitalista. Este desempenha um papel fundamental na compreensão das desigualdades sociais históricas e estruturais presentes na sociedade brasileira. Sua trajetória foi marcada pela luta contra a exclusão e pela defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, revela o compromisso com uma transformação social pautada na justiça, igualdade e cidadania. A inserção de seus pensamentos nos livros didáticos, representa o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, promovendo reflexões sobre a realidade social e incentivando a busca por uma sociedade justa e inclusiva. A abordagem sociológica proposta analisa os conflitos de classe e o racismo estrutural, propondo caminhos para a emancipação por meio da educação (FERNANDES, 1981). Portanto, valorizar o legado de Florestan Fernandes na educação básica é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, capazes de interpretar e intervir na realidade em que vivem. É, sobretudo, um ato político e pedagógico em defesa da democracia, da igualdade de oportunidades e da construção de uma sociedade não excludente. A prática educativa, a produção científica, a militância incansável e a tenaz ação do publicista Florestan Fernandes permanecem como uma contribuição e sua figura coerente e íntegra constitui impulsionando as lutas que somos impelidos a continuar travando para criar uma sociedade capaz de atender às exigências do viver entre as quais se incluem a universalização da educação de qualidade e por uma sociedade digna. A regra do ponto de vista econômico é investir cedo para evitar lacunas de desempenho, ou pagar para remediar disparidades quando se tornarem difíceis e caras de cancelar. O pagamento será efetuado. E teremos que fazer as duas coisas por um tempo. Mas há uma diferença entre as abordagens. Investir com antecedência na família, local, território, mobilidade, gênero, raça, educação, cultura, saúde, nutrição e meio ambiente nos permite moldar o futuro; investir depois nos acorrenta a consertar as oportunidades perdidas.
Dr. Fabiano Pereira de Souza
Dra. Laura Loguercio Cánepa (UNIP)
Dr. João Paulo Lopes de Meira Hergesel (PUC Campinas)
Em constante crescimento, o mercado global de entretenimento e mídia deve movimentar cerca de 3,5 trilhões de dólares em 2029, em estimativa da PwC. Muito mais que aspectos financeiros, é por meio de seus vários formatos que circulam a arte, a cultura, notícias, negócios, diversão e expressões diversas de ideias, valores e sociabilidade. Do ponto de vista artístico, as diversas formas de mídia, invariavelmente digitalizadas, exploram narrativa, linguagem e estética próprias, produzindo complexas relações de sentido e experiências sensoriais surpreendentes e intensas. Na imagem digital, o real – referente original do registro da imagem – torna-se maquínico (DUBOIS, 2004), quando não é totalmente criado por computador. Sons criados em estúdio podem desencadear na imaginação evocações verbais ou acústicas de algo que nunca se viu (CHION, 2003). Vemos o mundo e nossas próprias identidades como sistemas complexos, descentralizados e com finais abertos e buscamos o denso universo das narrativas em todas as perspectivas possíveis (MURRAY, 2003). Seja com filmes de ficção ou documentários, de curta, média ou longa metragem, séries de TV, telenovelas, noticiários, entrevistas, bate-papos, shows de variedades, reality shows, videoclipes e vídeos para as mais diversas plataformas online, bem como formatos híbridos, a cultura audiovisual domina o eixo central da comunicação atual em escala global. Utilizando cada vez mais sofisticados recursos de registro, edição e efeitos visuais e sonoros, plataformas de streaming e redes sociais diariamente pulverizam globalmente conteúdos produzidos em escala industrial, bem como aqueles criados por indivíduos e comunidades. Uma parte considerável e crescente desse conteúdo audiovisual já é criada por meio de ferramentas de inteligência artificial. Há um acesso cada vez maior dos expectadores aos meios de produção de conteúdo, processo simultâneo a uma acirrada disputa de controle dos big data e uma forte tendência de hiperpersonalização na distribuição da comunicação contemporânea, mediante os dados de navegação constantemente coletados conforme usuários acessam as mais diversas plataformas da internet. Esse fenômeno reflete e molda comportamentos e identidades culturais, redefinindo relações de trabalho, lazer e política. Este GT busca trabalhos que abordem questões de ordem expressiva, discursiva, conceitual, bem como representações culturais que extrapolem os limites das mídias audiovisuais para a esfera social, especialmente numa perspectiva multidisciplinar de convergências entre as diferentes ciências humanas.
Dra. Patrícia Ignácio (UFRN)
Dra. Viviane Castro Camozzato (UERGS)
Dra. Mariangela Momo (UFRN)
Dr. Facundo Giuliano (IICSAL-CONICET / IICE-UBA)
Os Estudos Culturais, enquanto campo heterogêneo e marcado por sua condição constitutiva anti, multi, inter e transdisciplinar, emergiram no século XX a partir da análise de fenômenos pertencentes à ordem cultural. Em suas teorizações, os Estudos Culturais promoveram um importante deslocamento no conceito de cultura, que deixou de ser concebida como mero reflexo de processos oriundos de grupos sociais considerados legítimos de sua produção e passou a ser reconhecida como as práticas de significação compartilhadas por todos os sujeitos sociais. Ao rejeitar compreensões dicotômicas e reducionistas — que classificavam a cultura como “alta” ou “baixa” — os Estudos Culturais evidenciaram-na em sua complexidade e potência, deslocando o olhar para seus embates, tensões e articulações com o social. Um sistema de significações que atravessa todos os recantos da vida social contemporânea, capaz de disseminar modos de ser e conviver, ao mesmo tempo em que forja subjetividades alinhadas às racionalidades dos tempos e espaços em que os sujeitos se encontram inseridos. Na busca por insurgências, fissuras, clivagens que tensionem os regimes de verdade e abram espaço para a valorização dos diferentes modos de vida e produção de sentidos de todos os sujeitos sociais, os Estudos Culturais assumem a cultura como campo de luta, arena de disputas de sentido, espaço de produção de subjetividades e instância de intervenção política. Nesse percurso, conceitos como identidade, poder e linguagem, entre outros, configuram-se como fundamentos teórico-analíticos capazes de possibilitar deslocamentos, (re)interpretações e (re)invenções. Seu profícuo debate se matizou em um caleidoscópio de pesquisas e estudos que versam sobre temas como: corpo, gênero, sexualidade, decolonialidade, mídia, infâncias, consumo, arte, tecnologias… A fecunda articulação entre os Estudos Culturais e o Campo da Educação tem suscitado múltiplos debates e pesquisas, ampliando os entendimentos acerca da docência, dos processos de ensino e de aprendizagem e da formação dos sujeitos sociais. Dizendo de outro modo, ela promoveu — a partir de bricolagens e do entrelaçamento de diferentes campos de saber — uma des/re/montagem de pressupostos sobre sujeitos e sobre os modos como eles se forjam e são forjados nos diferentes espaços onde a educação acontece. Partindo desse entendimento, neste GT, convidamos pesquisadores e pesquisadoras para responder à questão “O que podem os Estudos Culturais no Campo da Educação?”, a partir das teorizações, articulações, bricolagens e caminhos investigativos que estejam e/ou tenham acionado ao longo de seus estudos e pesquisas. O objetivo é promover um espaço de encontro, troca e diálogo acerca das contribuições teóricas e metodológicas dos Estudos Culturais para o campo da Educação, evidenciando modos de pensar, refletir e des/re/montar nossas relações com o mundo comunal e singular.
Me. Adilson Skalski Zabiela (Ulbra)
Dr. Eloenes Lima da Silva (Ulbra)
Dra. Clarice Antunes do Nascimento (Seduc RS)
A educação contemporânea constitui-se como território de disputas discursivas onde a racionalidade neoliberal produz subjetividades empresariais, performando uma lógica de mercado que molda modos de ser e estar no mundo. Nesse contexto, o tempo, os corpos e as mentes são capturados como recursos produtivos, submetidos às tecnologias de mensuração que operam a governamentalidade educacional. É nas fissuras dessa maquinaria produtivista que emergem linhas de fuga, constituindo territórios de resistência cultural onde o ócio, a contemplação e a lentidão assumem dimensões pedagógicas que escapam às capturas identitárias e produtivas. Inspirado no conceito de “ócio criativo” de Domenico De Masi, que articula trabalho, estudo e jogo na sociedade pós-industrial, este Grupo de Trabalho propõe problematizar como diferentes agenciamentos culturais produzem pedagogias que valorizam temporalidades não-produtivas como formas de conhecimento e resistência às metanarrativas do progresso. A perspectiva contracolonial de Antônio Bispo dos Santos contribui com conceitos como “biointeração”, “confluência” e “saberes orgânicos”, oferecendo uma crítica às temporalidades lineares e às dicotomias modernas, enquanto Paul Lafargue, em “O Direito à Preguiça”, fornece uma genealogia da resistência à “religião do trabalho”. Jesús Martín-Barbero, através de suas reflexões sobre “mediações” e temporalidades das culturas populares, oferece ferramentas para compreender como as práticas educativas cotidianas produzem diferenças que resistem às homogeneizações hegemônicas. Byung-Chul Han, ao analisar a “sociedade do cansaço” e a violência da positividade neoliberal, oferece elementos para compreender como os dispositivos de performance colonizam subjetividades educacionais. Articulando-se com os Estudos Culturais, especialmente através das contribuições de Stuart Hall sobre identidades como posições de sujeito em constante deslocamento e Dick Hebdige sobre subculturas como bricolagens de resistência, o GT constitui-se como espaço de experimentação conceitual e diálogo interdisciplinar que problematiza as pedagogias do ócio como multiplicidades irredutíveis e estratégias micropolíticas de resistência na educação latino-americana contemporânea. Considerando as pesquisas sobre Estado-coach e tecnologias de governo, bem como as investigações sobre temporalidades alternativas e corporeidades que escapam às disciplinarizações, serão bem-vindos trabalhos que problematizem temporalidades hegemônicas na educação, questionem as tecnologias de otimização do eu, explorem experiências de educação popular e comunitária, investiguem pedagogias quilombolas e indígenas, analisem terreiros como heterotopias educativas, e explorem corporeidades e afetos que escapam às capturas produtivas. A perspectiva latino-americana é central, valorizando epistemologias menores, saberes contracoloniais e experiências educacionais que resistem às colonialidades do tempo, do saber e do ser.
Dra. Juliana Brandão Machado (UNIPAMPA)
Dr. Maurício Perondi (UFRGS)
Este grupo de trabalho propõe discutir as relações entre pesquisa e sociedade, a partir do campo da educação, pensada aqui em suas distintas formas de manifestação, em que se somam as práticas da educação formal e também os processos de educação não-formal. O objetivo do GT é problematizar a cultura contemporânea na sua relação com o campo educacional, no âmbito das políticas, das práticas e das narrativas produzidas na cibercultura. Assumindo a perspectiva multidisciplinar da constituição da discussão na área da educação, entendemos que a cibercultura tem se constituído como um desafio para os processos educativos, o que implica repensar a constituição dos sujeitos e o desenvolvimento das políticas educacionais e práticas pedagógicas, sobretudo no contexto da plataformização das redes (Lemos, 2021). Vivemos num contexto complexo em que a ideia de “sociedade em rede”, preconizada e proposta por Castells (2007), a emergência e afirmação das tecnologias digitais, o surgimento da cibercultura (Lévy, 2007) e a plataformização digital (Lemos, 2021) provocam a pensar novas formas de situar a educação, as relações sociais e a construção identitária dos sujeitos. Além disso, de acordo com Lévy (2007), a emergência do ciberespaço possibilita o desenvolvimento de novas formas de acesso à informação e novos estilos de raciocínio e conhecimento, suscitando novas relações com o saber e com a aprendizagem. Nessa perspectiva, uma das possibilidades emergentes é a aprendizagem cooperativa, como forma de construção dos conhecimentos e aquisição dos saberes modificando os processos de aprendizagem. Assim, constitui-se um desafio problematizar as culturas contemporâneas diante do contexto da plataformização, dataficação e ubiquidade das redes, incidindo sobre a informação, a comunicação, as cidades, os corpos e as mentes, na aprendizagem e na vida, conforme propõe Santaella (2013). O GT também buscará discutir a relevância e a visibilidade desses temas no âmbito social, sobretudo, em tempos que emergem questionamentos sobre o papel da educação na sociedade contemporânea. Nesse sentido, serão acolhidas propostas de trabalho que abranjam discussões voltadas à área da educação, especialmente as que abordem as culturas infantis e juvenis, o trabalho docente, bem como trabalhos que discutam a cultura digital, na possibilidade de tecer redes de diálogo sobre as diferentes perspectivas das culturas contemporâneas e de refletir sobre políticas, narrativas e práticas convergentes à educação.
Dra. Naiara Souza da Silva (UNIPAMPA)
Dra. Giane Rodrigues dos Santos (UNIPAMPA)
Dra. Rubya Mara Munhoz de Andrade (UNIPAMPA)
É com satisfação e entusiasmo que propomos o Grupo de Trabalho (GT) intitulado Extensão: um espaço de diálogo e integração de saberes sobre práticas extensionistas no XI Encontro Humanístico Multidisciplinar (XI CLAEHM) e X Congresso Latino-Americano de Estudos Humanísticos Multidisciplinares (X EHM). Nesta edição, cujo enfoque central estimula abordagens participativas e colaborativas para a disseminação democrática do conhecimento e a valorização de todas as vozes, entendemos que a criação de um espaço dedicado à Extensão Universitária é mais do que necessária. Entendemos que a prática de uma cultura colaborativa, opõe-se a cultura do individualismo, que é predominante na maior parte das instituições universitáriase ambientes de ensino e aprendizagem. A extensão universitária com o desenvolvimentos de praticas pedagógicas dialógicas e libertadoras na perspectiva da integração de saberes, pode vir a possibilitar o rompimento da inércia do trabalho individualizado exercido por cada professor e favorecer uma formação discente e docente com uma nova e renovada proposta de humanização na educação.Neste sentido, o rompimento com práticas pedagógicas individualizadas e a construção de uma nova cutura colaborativa compromete a gestão universitária, na revisão e reconstrução coletiva de novas formas de planejar, orientar, avaliar e desenvolver os processos de ensino e aprendizagem no ensino superior. No mesmo sentido, desenvolve no aluno um processo de descoberta de suas potencialidades e fortalece o desenvolvimento de um perfil de aluno pesquisador, autônomo e comprometido com o protagonismo de sua trajetória acadêmica e desenvolvimento profissional. Portanto, o presente GT busca reunir e divulgar ações extensionistas desenvolvidas em Projetos de Extensão registrados, articulados aos componentes curriculares ou vinculados ao Projeto Unipampa Cidadã, constituindo-se como um espaço de troca e sistematização das experiências, permitindo não apenas a socialização das práticas já realizadas, mas também a construção de novas perspectivas para a Extensão Universitária. Ao promover esse encontro, buscamos estimular o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, evidenciando a transversalidade da Extensão como eixo estruturante da formação acadêmica. A iniciativa busca justamente fortalecer a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), da Resolução CNE/CES n. 7/2018 e, de forma específica, da Resolução n. 332/2021, que regulamenta a execução de atividades extensionistas nas instituições públicas de nível superior. A Extensão Universitária, em sintonia com o projeto acadêmico da Unipampa, é entendida como processo interdisciplinar, de caráter político, educativo, cultural, científico e tecnológico, caracterizando-se pela articulação permanente com o Ensino e a Pesquisa, em um movimento que promove interação transformadora entre universidade e sociedade. Nessa perspectiva, o conhecimento acadêmico é democratizado, ampliando sua circulação e apropriação, enquanto os saberes e experiências da comunidade são reconhecidos e valorizados como elementos essenciais para a construção e o compartilhamento de conhecimento. Essa dinâmica fortalece o papel social da universidade, contribui para a formação crítica e cidadã dos nossos acadêmicos e reafirma o próprio compromisso da Unipampa em consolidar sua função social. Assim, mais do que um GT, propomos um espaço que valoriza as práticas extensionistas, para o compartilhamento das ações, experiências e ideias, a partir de uma proposta dialógica que possa ampliar o alcance da universidade pública e reforçar sua relevância para o desenvolvimento da região.Trata-se de um esforço para ampliar a visibilidade deste eixo e, ao mesmo tempo, fomentar uma reflexão crítica sobre seus impactos sociais, culturais e educacionais, na perspectiva de uma universidade do encontro.